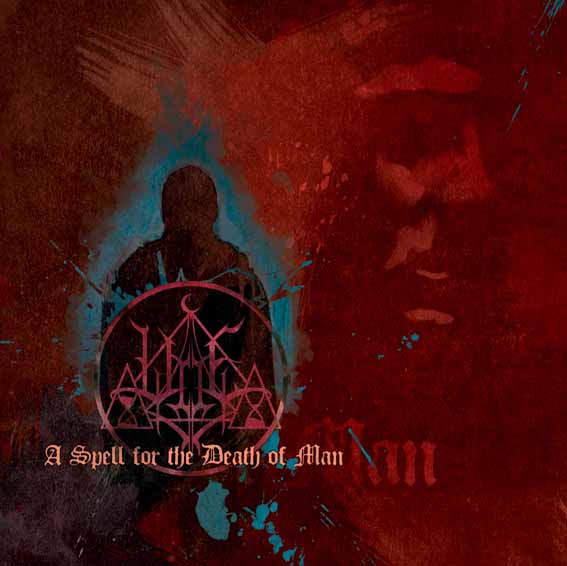Vou começar este post confessando uma parada muito louca de verão: nunca parei pra dar atenção aos Smiths. Sérião. Sempre vi gente idolatrando eles como se eles fossem geniais, pondo os moçoilos em pedestais tão altos, mas tão altos, que me dava preguiça só de pensar em escutar. Mas eis que o menino Yuri me desafiou a discorrer neste feriado sobre o segundo albinho de estúdio dos britânicos, “Meat Is Murder” – albinho esse que com o qual eu já tinha topado há uns anos, e já tinha ouvido alguma coisa (mas não lembrava, veja só), na época em que eu me interessava em, quem sabe, estar aí n’atividade com os corres da (cof, cof) militância vegetariana da vida... mas esta é uma outra estória (ainda bem).
Baixei o disquinho pensando que seria uma boa ouvir algo dos moços, já que sempre me senti meio que sem assunto quando alguém falava deles. Reza a lenda que este disco é “mais politizado” que o primeiro, “The Smiths”, mas isso não importa agora. Depois de ouvi-lo pelo menos uma três vezes em dois dias, consegui lembrar bem os motivos que me fizeram ficar longe dos Smiths esse tempo todo. O disco é totalmente anos oitenta, e seria lindo se não fosse tão terrivelmente melancólico, tão terrivelmente Legião Urbanesco - e não (me) importa quem influenciou quem neste caso, porque nenhum deles faz meu tipo -, além de ter momentos “vamos mandar a real pra deus e o mundo” que não me apetecem em nada. Coisas da vida.
The Headmaster Ritual, como cês devem estar bem ligadinhos, é uma crítica às escolas de Manchester e seus métodos duvidosos de ensino. Começa numa levadinha gostosa como um entardecer ensolarado com os amigos no auge da adolescência nos anos 80, tão delícia que nem parece crítica. Mas é. “I wanna go home / I don’t want to stay / give up education / as a bad mistake” é jogar verdades no ventilador sem deixar de lado o jeitinho cabisbaixo de ser que o povo tanto gosta. Vai saber.
Rusholme Ruffians começa e deixa eu ver se eu entendi as coisas: é uma música sobre feiras de diversão, mas com muita porrada e coisas não tão inocentes e bonitas e bacanas de acontecer. É isso mesmo? Morrissey fala de roubos, gente espancada, gente famosa, meninas com saias que sobem aos olhares atentos e gente que se apaixona por alguém, coisas que acontecem na última noite da tal feira – e que, apesar de voltar sozinho pra casa, sua fé no amor não é abalada. Que alegria, que bonito, que beleza, hein? Então toca I Want The One I Can’t Have, que é uma bonita canção sobre um amor que não se concretiza no aqui e agora, e sobre o cara não conseguir mais esconder o que está sentindo. E aí ele fala qualquer coisa sobre uma cama de casal e um alguém especial serem as únicas riquezas do pobre, e depois sobre um moleque que saiu do reformatório e bla bla bla. Uma contextualizada social que faz com que a musiquinha bonita se torne um emaranhado de coisas que nem precisavam estar ali. Mas aí vem What She Said, cuja letra é só triste mesmo. Ainda bem. A voz de Morrissey quase derrete aos ouvidos atentos quando ele pronuncia “what she saaaaid”. É uma pena que esta seja a segunda menor música do álbum, pois, pelo menos pra mim, uma das que mais ficou na cabeça.
A quinta faixa, That Joke Isn’t Funny Anymore, é puro muro das lamentações. “I just might die with a smile in my face after all”. Tristeza. Gente que é supostamente feliz rindo de quem é supostamente triste. Foi lançada como single depois do lançamento do álbum. E é isso.
How Soon Is Now? foi inclusa no material quando o mundo passou a aderir ao advento do disquinho compacto, vulgo CD. Por algum motivo, esta música cabô com todo o resto do disco pra mim – e isto é um elogio, ou uma tentativa de. Super cara de hit oitentista, desses que hoje a sua tia ouve num programa saudosista de rádio e começa a dançar a coreografia que a música ganhou nas baladas mundo afora, super empolgada. Quase se pode sentir cheiro de naftalina. O moço dos vocais canta: “I am the son and the heir / of a shyness that is criminally vulgar / I am the son and the heir / of nothing in particular”, e eu não posso deixar de pensar que isso é genial. Quase sete minutes de uma grande música. Mas Morrissey insiste que na vida nem tudo são flowers, e junta sua trupe para atacar meus ouvidos com Nowhere Fast - e, sei lá, mais uma vez a mistura de sentimentos com vontade de criticar as paradas e baixar as calças pra Rainha e pro mundo. Sobre isso não discorro. Mas devo confessar que “when I’m lying in my bed/ I think about life / and I think about death / and neither in particularly appeals to me” é o tipo de coisa que eu acho que eu deveria ter escrito antes. Hmpft.
Engraçado, as letras que aparentemente não tem nenhuma pretensão de criticar algo ou alguém são as que me soam mais sinceras neste disco. Well I Wonder, por exemplo, é uma belíssima canção. “Gasping, but somehow still alive / this is the fierce last stand of all I am / (…) please keep my in mind” é um grito de dor em meio à noite escura, uma espécie de ultimo pedido antes de virar as costas e dar o fora, e os ruídos de chuva caindo que encerram a faixa só aumentam a sensação de se estar indo embora sozinho e desconsolado. Pobres meninos, esses Smiths.
Tudo acabaria muito bem, se não fossem as duas últimas faixas do disco e suas pressões ideológicas/político-sociais e o diabo a quatro na terra do sol nascente. Barbarism Begins at Home fala sobre violência doméstica gratuita com as crianças. Tem uma levadinha bacana e é uma grande música, mas eu não pude deixar de achar engraçado ao associar involuntariamente os versos “a crack on the head...” com “beat on the brat with a baseball bat”, do Ramones, que no fim não tem nada a ver, mas acaba tendo. Pode parecer feio cantar sobre bater em crianças (e é – não façam isso com seus irmãos menores {nem com os maiores}!), mas eu ainda prefiro cantar o politicamente incorreto com os Ramones. Oh yeah, oh yeah, oh oh!
Finalmente! chegamos à última faixa, homônima do disco, em que o seu moço canta que “death with no reason is murder”, e eu teoricamente deveria ADORAR esta música por ser vegetariana, porque está tudo ali, todos os “argumentos” que a galera usa nas fotinho da interwebzz (que não existiam naquela época, vejam só), mas eu já ouvi tanto esse discurso que já me encheu o saco. Tentativa de persuasão ideológica por meio da sua obra é o golpe mais inteligente e mais baixo que um artista pode dar. Quer dizer, imaginemos quanta gente não parou de comer carne por causa desta musiquinha, coleguinhas! Reza a lenda que o Morrissey, que muito convenientemente era o principal compositor da parada toda, proibiu o resto da banda de aparecer comendo carne. Sabe qual é, né, galera, tem que jogar a verdade no ar, mas tem que sustentá-la também. Complicado. Quanto à música em si: não é ruim.
“Meat Is Muder” é um disco politizado? É. É um discos de críticas? É também. Há momentos, porém, em que parece que essas críticas todas são meio... forçadas? Não sei. Não é que música não possa ser política, muito pelo contrário – mas, pô, colocar guerra e amor e crises existenciais no mesmo balaio e querer que saia coisa bonita em todos os assuntos é, como diria meu tio, forçar a tanga. Fora que, pode ser ignorância minha, mas os caras parecem atirar pra todos os lados, querendo atingir a tudo e a todos no mesmo instante numa overdose de discursos que hoje soam meio pré-fabricados. Mas parece que a galera não pensava assim e continua achando o esquema bacana ainda hoje, já que o disco foi um puta sucesso no mundo todo e é tipo referência pra geral e todo mundo tá feliz, todo mundo quer dançar, todo mundo pede bis, mesmo sem saber bem do que o cara tá falando ali. Vai entender essa gurizada.